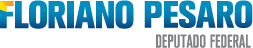Floriano Pesaro, sociólogo.
Em ano eleitoral, somos instados a exercermos um dos direitos mais salutares de um cidadão que vive num país livre e democrático: escolher seus representantes e, a partir deles, defender qual é a agenda, as prioridades, que deve ser colocada em prática para os próximos anos. No entanto, no afã das eleições, fora dos círculos da ciência política, nos esquecemos de refletir sobre o sistema eleitoral e nossa forma de organização política e social. Afinal, com nossa jovem – e ameaçada – democracia, nosso sistema faz sentido?
Nos últimos anos, no debate público brasileiro, ouviu-se falar sobre debates em torno do modelo eleitoral: “distritão”, distrital, distrital misto, “lista fechada”. Uma série de alternativas pouco familiares ao público em geral que, embora possam ser, ou não, virtuosas, se dão por meio do debate essencialmente de interesse partidário: custos de campanha, fortalecimento das legendas e redefinição de forças locais.
Meritórios questionamentos, indubitavelmente, mas que, além de passarem longe da compreensão do grande público, se furtam a discutir o sistema político brasileiro e como ele dialoga com a expectativa da população com a nossa democracia.
Israel nos traz um bom exemplo: vivendo num sistema parlamentarista – onde o Congresso eleito escolhe o presidente sob regras legais e, ou, de costumes, os israelenses tentaram por três vezes – 1996, 1999 e 2001 – realizar eleições diretas ao cargo de primeiro-ministro, o equivalente ao presidente da República no Brasil, e não foram bem sucedidas.
Isso porque, embora alçado ao posto máximo da república com a legitimidade de milhões de votos, o primeiro-ministro devia fazer um governo que dialogasse com o conjunto da sociedade e não apenas com aqueles que o elegeram, assim como deve ser um governo democrático. Tal objetivo passa, necessariamente, pela convivência e ajustes com os parlamentares no Congresso Nacional, ou “Knesset” em Israel.
Foi nesse ponto que os israelenses abandonaram a votação direta para primeiro-ministro: seu cargo não tinha sido investido pelo conjunto da sociedade, que seja pelos representantes dela – ou seja, o Knesset – mas, sim, pela maioria que o escolheu, de modo que, a arquitetura partidária para a formação de um governo era tão fragmentada e incompatível entre si, executivo e legislativo, que era quase impossível de ser equacionada.
Não se trata de defender puramente um sistema parlamentarista, mas de um convite à reflexão: é comum ouvir uma reclamação de que o anseio popular do grupo majoritário que levou determinado candidato a ganhar o cargo de presidente da República não é atendido, uma vez que o Congresso Nacional, ou seja, os representantes do conjunto da sociedade, não compartilha da mesma agenda. Seria uma das soluções que o mandatário emergisse, portanto, desses representantes igualmente legitimados pelo voto popular? Há de se pensar.
Hoje, na Câmara dos Deputados, há um grupo de trabalho pensando nesse realinhamento futuro, que nos parece ser necessário de algum modo após a cooptação do orçamento público em virtude de um Executivo de pouca habilidade política, com bases no semipresidencialismo, uma alternativa que mantem a figura do presidente e do primeiro-ministro buscando dar a ambos um papel relevante no equilíbrio democrático.
Não há resposta certa às indagações desse texto e, certamente, elas ramificam uma série de discussões sob uma miríade de nuances, inclusive pode-se questionar se o sistema israelense é tão bom assim, afinal, nos últimos dois anos foram quatro eleições buscando formar um consenso. O que se tem, no entanto, é que pensar caminhos criativos para uma democracia mais saudável e representativa – sem nunca dela usurpar a legitimidade.